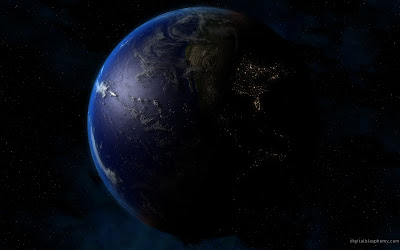|
| Foto copiada do seguinte blog. |
A vida, grã, é um trem grande demais da conta e passa rápido que nem avião. Às vezes se parece com um carrinho de sebo descendo pelo passeio da Bonsucesso, da esquina do doutor Breno até às raias do corgo — quarteirão mais íngreme da rua. Ou seja, vai zunindo e ainda deixa sebo na calçada, um risco para senhoras e senhores, andem de bengala ou não. Aquele moço de Cordisburgo, o tal Guimarães Rosa, dizia que viver é perigoso. Renga, se é. Por isso eu bebo. E bebo também porque, tonto, é mais fácil andar em corda bamba — ou em passeio torto ou ensebado.
Veja
se concorda com a minha falta de ciência. Tem é coisa errada entre o aquém do
Tula e o além da Praça do Rosário. Professor ganhar pouco. Polícia desrespeitar
um sujeito só porque ele é preto ou pobre ou pobre e preto. Homem bater em
mulher. Essas são graves, mas outras nem tão graves assim são também
gravíssimas. Dono de botequim servir cerveja quente. Playboy ouvir no carro música
no último volume (eu nos meus ontens). Mulher bater em homem. Cruz, credo!
Se existe
um troço que não entendo é a falação que dentista arranja enquanto cuida da
gente. O paciente — anestesiado, boca aberta por imposição e necessidade — não consegue
responder, nem com movimento de cabeça. No máximo, mexe os olhinhos. E isso de mexer
os olhinhos, Jesus Cristim, é estratégia de flerte no rela, não tem nada a ver
com sim, não, talvez, pensando bem, palavras boas para entabular uma prosa. Dentista
é chegado numa torturinha, já não bastassem os preços. Sai de mim, boi de
Garça.
Nó,
sô, me lembrei de uma dor de dente que tive num carnaval. Os dentistas todos lá
pras Furnas e suas beiras. Ligo, no desespero, pro meu primo, o Cássio. Ele me
atende no consultório e, sem desperdiçar palavras, abre meu dente. Era um
canal, não poderia cuidar dele, pois, como eu logo voltaria ao Rio de Janeiro,
não daria tempo. Milagre, só de abrir o dente a dor sumiu. Cassinho me explicou
a química daquela maldição. Fiquei boquiaberto e despossuído de palavras ao
saber que, presos entre as paredes do dente, alguns gases comprimidos provocavam,
nas palavras do primo, a ondontalgia. Portanto, feito pessoa ou mesmo bicho, esses
gases só precisavam de liberdade. Dentista é mesmo uma bênção, esqueça tudo
quanto já foi dito antes.
As
pernas da Martinha foram cantadas em marcha de carnaval. Eu alembro, das pernas
e da música. O engraçado é que, logo de cara, a musiquinha insistia “Martinha,
Martinha, está na hora de você entrar na linha”. Erraram de musa. Quem deveria
entrar na linha são os lalaus de todos os naipes, esses blefadores de truco
apostado com o dinheiro alheio. Se prefeito, secretário, vereador, deputado, senador,
juiz, governador, presidente, esse mundaréu todo — seja do Manda-brasa ou da
Arena, do Pato ou do Peru, seja vermelho ou de outra cor, tucano ou outro bicho
— andasse nos trilhos, virge, o mundo, de tão leve, avoava. Sabe quando esses
velhacos se emendam? Mané hoje, não; e nem amanhã.
Vorte!
Tô que nem doido, mas não vario. Com a cabeça no “Bem bolado”, as costas na
“Primor” e os pés no “Zé Feio”, dou um galeio, salto no lugar-nenhum e espio
pela fechadura só pra ver se encontro mulher vestida. Resolvi devolver o nu pra
imaginação. É difícil, mas eu coiso assim mesmo.