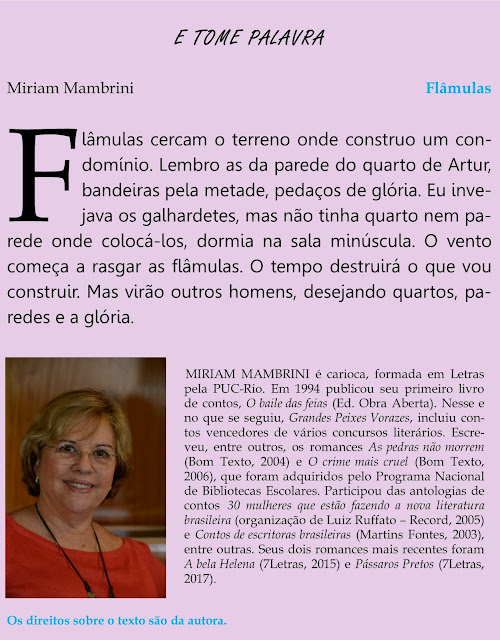O editor da Rubem é um jovem, o Henrique Fendrich. Nem bem sei como um dia ele me convidou para escrever em sua revista eletrônica, o fato é que eu aceitei, e minhas crônicas por ali passeiam há mais de cinco anos. Encontrei em Henrique um conhecedor da crônica brasileira, um senhor conhecedor, melhor dizendo. Ele, que também é cronista dos bons, realmente leu tudo, o que deveria garantir-lhe um espaço nas festas literárias, nos saraus do Sesc, em júris de concurso, mas, até onde alcanço do seu dia a dia, isso não acontece. O jornalista Henrique vive de trabalhos avulsos em Curitiba. Oh, Brasil!
A erudição do jovem editor, vez por outra, levanta do pó do esquecimento algum ou alguma cronista. Recentemente foi a vez de Marisa Raja Gabaglia, escritora que escancarava o peito, virava-se do avesso. Não conheço absolutamente nada do que ela escreveu, portanto foi no perfil feito pelo Henrique que encontrei a seguinte frase: “Sonho com a família perdida como se a pudesse recuperar. Sonho com a família como os cegos sonham com a luz.”
Em meados de dezembro, passei uns dias na companhia do meu amigo Marco Túlio Costa — um Escritor, disse noutra oportunidade e repito em quantas julgar necessário. Acontece que o Túlio não é só um escritor, é também um sujeito que vira e mexe arruma um projeto para atuar como voluntário. Seu livro “A árvore do medo” (Editora Formato), por exemplo, foi escrito a partir de suas oficinas com crianças carentes da cidade de Passos, onde vive. Ultimamente, ele trabalha com a Associação dos Deficientes Visuais. Nesses dias que passamos juntos, meu amigo me contou várias histórias da turma que acompanha, histórias divertidas, pois aqueles cegos são alegres e contornam com humor suas limitações. Túlio perguntou a dois cegos de nascença se eles sonhavam e com o que sonhavam. A resposta é que sonhavam com sons e tatos.
Marisa Raja Gabaglia, ao dizer que sonha com a família da mesma forma como os cegos sonham com a luz, está idealizando o sonho dos cegos ou simplesmente está dizendo — ela, que abriu mão da sua — que, na verdade, não sonha com família alguma? A julgar pelo levantamento da vida da escritora, esse do Henrique, a frase está apoiada na ilusão de que os cegos sonham com a luz, pois Marisa era carente do convívio familiar.
Certa vez, ouvi o Túlio (onipresente por aqui) aconselhar algumas professoras do ensino médio a não se preocuparem com o que o escritor quis dizer; como leitores deveríamos nos perguntar o que aquilo escrito sabe-se lá por quem significa para nós. Acabei de dar esse tropeço, mas até certo ponto justifico-o. Não houvesse eu sido alertado para a espécie muito singular de que é feito o sonho de um cego (pelo menos aqueles que nasceram assim), a frase de Gabaglia teria uma única leitura. Tendo ganhado repertório, a leitura se multiplicou e desse modo tornou-se mais interessante. Ah, como isso é bom. E como leva uma vida inteira nosso processo de alfabetização.